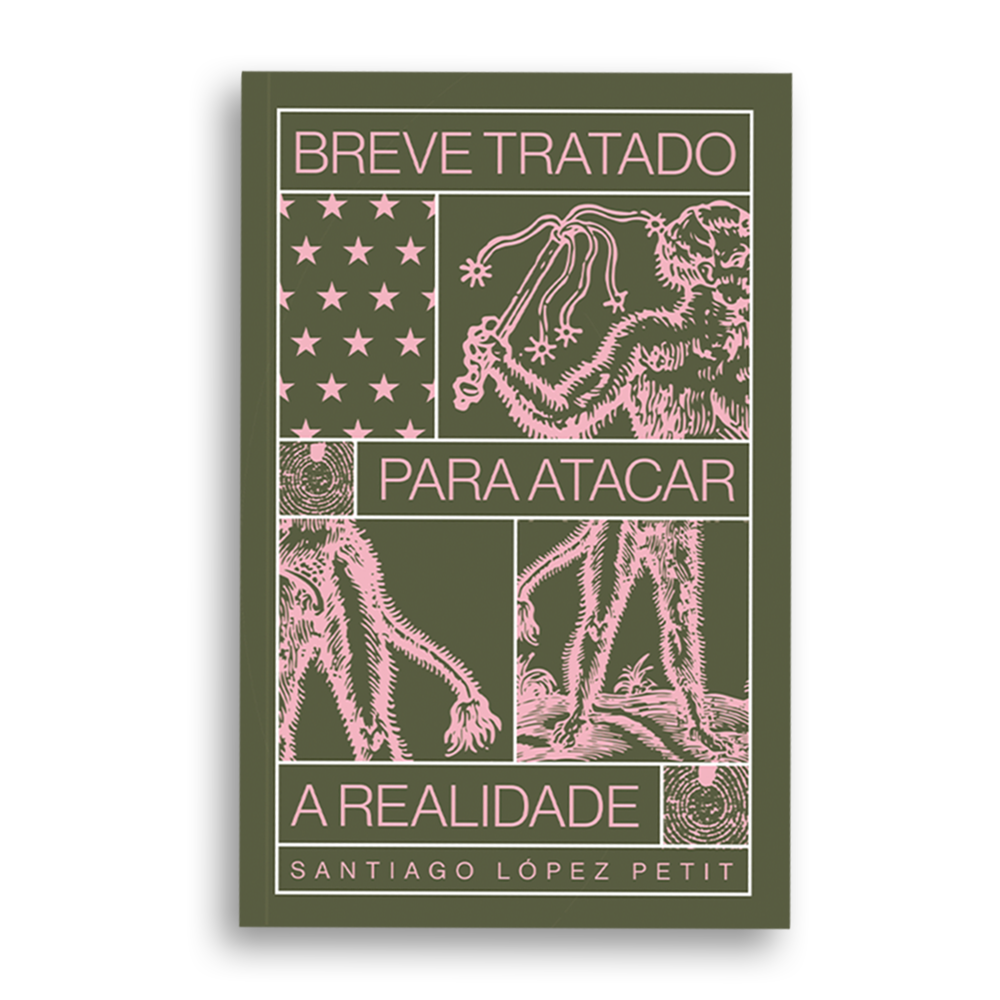hackeando o acontecimento

Quando falamos de Revolução epistemológica devemos, sobretudo, compreender que ela foi aprofundada – até mesmo acelerada, segundo alguns – a partir da pandemia da COVID-19 e a gestão dos governos neoliberais de nossos modos de vida que sempre se reformula. Esse assunto ainda me toca, pois parece que em 2020 vivemos tanto um aceleramento tecno-biopolítico quanto uma busca incessante, em alguns casos até atropelada, de compreender o que estava a se passar. Mas, apesar de leituras magníficas, pelas quais, inclusive, têm sido abertos diversos campos de investigação, pensamento e experimentação, ainda resta a sensação rebote disso tudo. Parece que ainda está tudo por acontecer. Talvez, devamos concordar nisso com Hegel quando diz que “a coruja de Minerva levanta voo ao cair do crepúsculo” e que “a filosofia sempre chega tarde demais”. Talvez estejamos ainda golpeados na cabeça e olhando para uma mudança que está impressa em nós, nas pautas diárias, nos espaços físicos e, sobretudo, virtuais. O nosso deslocamento mudou, nossos corpos mudaram, nossos gostos, nossos afetos, nossa gramática, etc. Em relação a esta última, a linguagem, ela está como em um turbilhão no subsolo do sentido trabalhando sem parar para se reproduzir, tanto se reformulando quanto se dissimulando. Preciado, em Dysphoria mundi [1], nos atenta para essa transmutação viral, à qual Burroughs também fazia menção, que pela linguagem se introduziu em nós:
“Uma nova era começa quando a linguagem, que é um ser vivo, se reproduz, dando origem a palavras que nunca ouvimos ou falamos antes. O ano de 2020 é o ano em que aprendemos a dizer, no meio de uma conversa qualquer, as palavras Wuhan, pangolim, RNA, carga viral, proteína spike, choque citocinético, anosmia, caso de contato, assintomático, período de incubação, respirador artificial, gesto de barreira, teletrabalho, passe de saúde… 2020 é o ano em que a palavra soropositivo deixou de ser associada apenas à AIDS. 2020 é o ano em que aprendemos a dizer essas palavras, assim como em outros séculos aprendemos a dizer homossexualidade, deficiência, bactéria, vírus, DNA… Fomos transformados por essas palavras. Nós nos tornamos outros. Burroughs disse que a linguagem é um vírus. Agora sabemos que um vírus também é uma linguagem. Fomos inoculados” [2].
Inoculados ainda pela linguagem viral, que deu espaço para um vírus como linguagem, a questão epistemo-política que se coloca e se prolifera em mutações virais que agem, principalmente, no espaço virtual, nos leva a problematizações que considero essenciais, sobretudo aqui, em uma comunidade dissidente e, por isso mesmo, literária. O debate em torno do fim do mundo parece, por vezes, se aprofundar tanto no campo teórico quanto no campo aberto do debate público. Problematizações que, via de regra, se dividem entre aqueles que pensam a identidade espistemológico-científica-política-estética-etc a partir da ciência como independente de uma ideologia e aqueles que entendem a ciência como produto de uma ideologia, portanto, uma ficção produzida. Nesse sentido, voltamos constantemente à essa querela que vagueia pelos séculos e que seguirá disputando fronteiras. Assim como também escreve Maurice Blanchot, em Les trois paroles de Marx, sobre os debates que se deram no seio dos acontecimentos de maio 68 e em torno da legitimidade da literatura frente à ciência, do enfim, reducionismo e essencialismo biológico que volta a ser reivindicado hoje:
“Mas lembremos que se há ciências, ainda não há ciência, porque a cientificidade da ciência permanece sempre dependente da ideologia, uma ideologia que nenhuma ciência em particular, mesmo que seja uma ciência humana, pode reduzir hoje, e lembremos que nenhum escritor, mesmo que seja marxista, pode confiar na escrita como conhecimento, porque a literatura (a necessidade de escrever, quando ela assume o papel do conhecimento) não é a única, não pode contar com a escrita como conhecimento, porque a literatura (a exigência de escrever, quando assume todas as forças e formas de dissolução, de transformação) só se torna ciência pelo mesmo movimento que leva a ciência a se tornar, por sua vez, literatura, discurso inscrito, aquilo que cai como sempre no “jogo insensato da escrever” [3].
O fato é que esse debate que ressurge, irrompe novamente, tem também relação – e eu ousaria dizer que o seu ressurgimento se deve a isso, não que ele não pudesse, e não encontrasse, outra forma de ressurgir – com o acontecimento pandêmico da COVID- 19. É que com o lockdown, situação de certa forma monadológica, tivemos que pensar sobre a fronteira, não apenas como estávamos acomodados a nos referir a ela, mas refletir constantemente sobre isso. Dessa forma, pensar o sentido de fronteira também se suplementou. A linguagem viral foi transmitida: passe vacinal, fronteiras de nossas casas, nossos corpos, nossas relações, limites de distanciamento, máscaras. Tivemos que repensar o sentido de contato, de perigo, de afeto, de proximidade e distanciamento. A pandemia promoveu uma ruptura pela sua irrupção.
Mas, afinal, o que é um acontecimento? A irrupção da diferença pura? Sim, temos várias leituras feitas sobre isso, entre elas, a minha preferida, aquela presente em Uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento de Jacques Derrida, segundo à qual o acontecimento é indizível porque é irredutível à apreensão. Portanto, o acontecimento é a vinda de algo/alguém que vem, que é estrangeiro, que difere e irrompe. Nunca se estará pronto para o acontecimento, nunca o conhecerá, pois, ele não se deixa teorizar. Retomarei ainda agora a figura do povo que vaga pelo deserto em busca da promessa como promessa: a Terra Prometida. Sabemos que o humano se pôs em movimento muitas vezes na história em pressentimento de um por vir. Isto é messiânico. Porém, ao colocarmos essa lente sobre a história do acontecimento – se é que podemos falar em tais termos e que, de todo modo, não é menos messiânico – logo veremos que a espera do acontecimento, e o estar nele, envolve também alguns atos de fé e, com isso, não estou me referindo a qualquer religião, mas ao instante fundador do qual ela também se serve. Nesse sentido, poderíamos dizer que a Pandemia de 2020 nos colocou todos em vigilância sobre o que chega e quem chega. Tudo que fazia o vírus circular era invisível, assim como a linguagem viral e mutante. Acontece que o contato, o acontecimento e a proximidade/distanciamento tiveram de ser repensados, assim, a própria realização dessas dimensões que existem dentro da possibilidade de uma comunidade.
Não à toa, a comunidade vem acompanhada de uma experiência radical, pois se dá em relação ao desconhecido. A autoridade deste evento cabe somente à própria experiência que, por sua vez, se impõe rasgando todo e qualquer sentido que tenha se acomodado. Os eixos que assumo, a partir de então, e que seguirão vindos a público nas próximas semanas, como promessa de um pensamento, são três (que não só estão interimplicados, mas se interreferenciarão): (1) Lockdown enquanto acontecimento de ruptura subversiva do desejo e da hospitalidade; (2) A possibilidade de viajar no tempo por meio da fenda: como vagabundear na cidade, em maio de 68 e na democracia por vir; (3) E a abertura ao mito antropomórfico dos mundos possíveis.
Breves flanações sobre um projeto não-homogêneo de experiência
Se todos esses eixos se anunciam a partir do acontecimento, da ruptura e do contato enquanto afirmação da diferença, todos experienciáveis pela possibilidade da experiência, gostaria de começar a falar um pouco de Georges Bataille. Qualquer pensamento que se anuncie em torno da comunidade como acontecimento – ainda que esses acontecimentos fujam à ficção da linearidade do tempo para se abrigarem em outra ficção muito mais séria, porque é a dimensão da autoridade da experiência, a do tempo morto/além-tempo- deve passar por Bataille e, principalmente, pela Experiência Interior.
“A experiência interior, por não poder ter princípio nem num dogma (atitude moral), nem na ciência (o saber não pode ser nem seu fim, nem sua origem), nem na busca de estados enriquecedores (atitude estética, experimental), também não pode ter outro anseio nem outro fim que não ela própria. Abrindo-me à experiência interior, postulei seu valor, sua autoridade. Não posso de agora em diante ter outro valor nem outra autoridade. Valor, autoridade implicam o rigor de um método, a existência de uma comunidade”.
Aproximo-me, então, de duas noções essenciais: experiência interior e autoridade. Ambas as noções estão diretamente relacionadas para Bataille. Isto é, se de um lado temos o que se denomina “experiência interior” — que, para além dos planos que serão explorados aqui, se desenha como uma “viagem ao extremo possível do homem” —, de outro temos a autoridade dessa experiência, que já foi subvertida, ao longo da história, por diversas instituições. Isso me permite afirmar que a autoridade da experiência se tornou, no contexto dessas instituições, a autoridade sobre a experiência. Inversão que se identifica nas instituições que buscam dominar o espírito. Tal domínio, via de regra, tem três finalidades: (1) em relação à instituição religiosa, o fim moral, e, como bem lembra Bataille, em relação ao budismo, a supressão da dor; (2) em relação às instituições de conhecimento, o próprio conhecimento é o fim dessa experiência, e não ela mesma; (3) no caso da experiência estética, a finalidade é o sublime artístico.
Pós-apocalíptico: domínio, o poder sobre a experiência, a partir disso que se anuncia aqui, se reformulou à luz do dia, entrou em nossas casas, como colonizadores recém-chegados e nos subjetiva. As maneiras de reinversão em direção à experiência nela mesma estão passando, se recosturando, em um chamado a um novo desejo, a uma nova forma de desejar. Que recodifiquemos o código e isso começou ontem, enquanto dormíamos e acordamos cheirando a álcool em gel.
Continua!

Mayara Dionizio é escritora, filósofa e tradutora. Doutora em Filosofia (UFPR) e em Littérature et Civilisation Française (UPJV-França), autora do livro “Antonin Artaud: o instante intermitente” (2020), pesquisa e escreve sobre as relações entre comunidade, vagabundagem, antinomia na linguagem e suplementaridade.